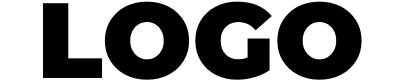O sonho americano está mais do que morto
A onda de protestos exigindo o fim do massacre de Israel contra palestinos e um cessar-fogo na Faixa de Gaza desequilibrou o jogo político e alterou o centro de gravidade das forças nos Estados Unidos. Essa é a análise de Manolo de los Santos, pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e co-diretor executivo do Fórum Popular, o Peoples Forum, organização que se propõe incubadora de movimentos para a classe trabalhadora estadunidense.
Em entrevista ao Brasil de Fato, ele analisou as disputas envolvendo as eleições presidenciais do dia 5 de novembro e como a defesa da causa palestina deve influenciar o pleito.
“É impossível falar de política nos EUA sem falar da posição dos políticos a respeito do ato de genocídio. Sejam políticos de extrema direita ou até mesmo políticos progressistas, como Bernie Sanders, todos se viram obrigados a explicar qual a sua postura frente ao conflito”, disse.
O pesquisador ainda apontou a diversidade de categorias envolvidas nos atos como estudantes, jornalistas, sindicatos e até trabalhadores da indústria cinematográfica de Hollywood.
“É um espectro bem amplo da sociedade norte-americana, a ponto que vieram a público alguns áudios onde o lobby sionista discute, por exemplo, o que fazer frente ao surgimento desse novo fenômeno político. Eles sugerem que não é mais um problema de ‘esquerda vs. direita’, mas sim um problema geracional”, aponta.
Todo esse processo político faz parte, defende Manolo, de um ressurgimento de ideias socialistas nos EUA, encabeçado por mobilizações sindicais e outras lutas como a racial e a de gênero. “Em todo o país, desde trabalhadores da Amazon até os da Starbucks, estão surgindo novos sindicatos independentes onde a maioria dos trabalhadores são jovens e estão agindo politicamente”, afirmou.
“Vemos também a grande causa pendente na política norte-americana que é até quando as negras e os negros dos EUA continuarão sendo assassinados pelo próprio Estado, continuarão sendo presos em quantidades massivas e que superam proporcionalmente a população negra do país.”
Confira os principais trechos da entrevista:
Brasil de Fato: As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para o dia 5 de novembro e muita coisa ainda pode acontecer até lá, mas com o cenário atual, para você, quem vai vencer as eleições? Biden vai continuar no poder ou Trump pode voltar à Casa Branca?
Manolo de los Santos: Sem dúvida, são eleições históricas para os Estados Unidos, por tudo o que está em jogo. Sou um marxista e não um mago para fazer esse tipo de previsão. Então, mais do que dizer quem vai ganhar, acho que existe um desgaste político muito grande na sociedade e inclusive, pela primeira vez, em comparação com as últimas eleições, existe pouca diferença entre o que os candidatos propõem. As pessoas demonstram pouco interesse no que apresentam como programa político. Além disso, o efeito Palestina gerou um novo conflito dentro da política norte-americana, fazendo com que ambos os candidatos pareçam inadequados.
Em relação à política externa, à diplomacia, nada poderá mudar entre Biden e Trump? Por exemplo, em relação à guerra na Ucrânia ou à América Latina, você vê diferenças entre as políticas dos candidatos?
Acredito que há leves diferenças entre os dois candidatos. Eles não têm o mesmo discurso, mas um mesmo objetivo, consolidar a hegemonia norte-americana em um mundo onde, devido às tensões políticas, à guerra na Ucrânia, Palestina, ao surgimento de um mundo multipolar, os interesses dos EUA se veem cada vez mais afetados.
Acho que Biden insiste em um projeto cada vez mais abertamente agressivo e busca impor, à força, a vontade política norte-americana. Não só com ameaças de guerra, como também com políticas econômicas e financeiras que afetam outros países. Trump, pelo contrário, assume um discurso do que chamamos de política de isolamento, mas que busca, ainda assim, renegociar a posição dos EUA no cenário internacional.
Acho que os dois, como resultado de vários anos do que chamamos uma nova Guerra Fria, entraram em um consenso bipartidista dentro dos EUA de que há inimigos como a Rússia e a China que devem ser enfrentados agressivamente. São fatores que não se alteram, apesar de haver leves diferenças na maneira de pensar o problema.
Nesse cenário, os países do Sul Global estão em disputa, certo?
É claro. Ambos os candidatos presumem que particularmente a América Latina continue sendo seu quintal. Portanto, é um cenário onde os EUA preveem uma política de contenção contra os governos progressistas na região e de consolidação de aliados da extrema direita e da direita tradicional.
Vemos isso aplicado no resto do mundo, como na África. Ambos os candidatos têm como política expandir a presença militar na África, com um discurso de que é preciso enfrentar o terrorismo, quando, na verdade, vêm articulando um cenário de enfrentamento à China. Então, há leves diferenças, mas cada vez mais há um consenso político entre a classe dominante norte-americana de que seu projeto, pela primeira vez em décadas, está enfrentando ameaças e riscos nunca antes vistos.
Mas a África se levanta de novo, não é mesmo? Há levantes neste momento em países como Senegal, Níger.
Sim, o Sahel, em que os EUA quiseram, por um tempo, por meio do Africom, gerar projetos econômicos por petróleo, uso de minérios, uso da água, para seus próprios interesses, e se viu enfrentado por uma onda de enormes transformações, que alguns chamam de golpes de Estado e nós diríamos que são revoluções políticas e sociais que ocorrem na região e, novamente, mostram que não estamos vivendo no mesmo mundo de alguns anos atrás.
Tudo mudou com a pandemia de 2020. A guerra na Ucrânia, a guerra na Palestina, que tornaram o projeto hegemônico dos EUA cada vez menos um horizonte ao qual o mundo queira se dirigir.
Há uma importante onda de protestos nos EUA e na Europa contra o massacre cometido por Israel na Faixa da Gaza. As marchas também colocam pressionam o presidente Biden por um cessar-fogo e ele teve que mudar um pouco seu discurso. Até durante as prévias ele enfrenta protestos com a campanha do uncommitted vote. Como você avalia essa postura da população estadunidense e quais os impactos disso nas eleições de novembro?
O mais interessante é notar o antes e depois do 7 de outubro [início do conflito em Gaza]. Antes do 7 de outubro, os protestos pró-Palestina eram vistos como algo periférico, exageradamente militante e marginal porque, na verdade, os EUA e cidades como Nova York sempre foram o bastião do poder sionista fora de Israel.
Israel e EUA dizem que sempre tiveram uma relação especial, mas no fim das contas é relação estratégica em que os dois projetos se protegem mutuamente em investidas imperialistas pelo mundo. Um serve ao outro. Portanto, após o 7 de outubro, gerou-se um movimento de massa, que mobiliza centenas de milhares de pessoas em todo o país e que tem um reflexo em milhões de pessoas no mundo todo.
Isso realmente mudou o centro de gravidade da política norte-americana. Já faz seis meses que é impossível falar de política nos EUA sem falar da posição dos políticos a respeito do ato de genocídio. Sejam políticos de extrema direita ou até mesmo políticos progressistas, como Bernie Sanders, todos se viram obrigados a explicar qual a sua postura frente ao conflito.
Chegou ao ponto de a equipe do presidente Biden ter que dizer que está muito difícil fazer campanha política em um ambiente onde cada evento, cada ato, cada reunião política há confronto, há gente interrompendo para falar da situação da Palestina. Portanto, o inesperado aconteceu e gerou grandes mudanças políticas dentro dos EUA. Grandes o suficiente para mudar essa relação especial entre EUA e Israel?
Ainda não. Mas servem como um imenso fator de pressão para moderar, até certo ponto, as ações de Israel. Há pouco tempo, o presidente Biden veio a público, pela primeira vez, para desafiar, mostrar discordâncias com as contradições que sente em relação ao governo de Israel.
Temos políticos, como Chuck Schumer, o senador mais importante para a comunidade judaica no Congresso norte-americano, que abertamente disse que pode ser que Israel não consiga existir no futuro. É um discurso que jamais poderíamos imaginar e que vem após uma mobilização, pressão pública, que continua acontecendo, não acabou, não se desgastou. Pelo contrário, o movimento continua crescendo e entrando no que chamamos de mainstream ou no centro da política e do discurso da opinião pública.
Há analistas que comparam esse movimento contra a guerra em Gaza aos protestos contra a Guerra do Vietnã. O que acha dessa comparação?
Acho que é uma comparação interessante. É verdade que não víamos mobilizações desse tipo, tão imensas, massivas, recorrentes e consistentes desde a época da Guerra do Vietnã. Mas acho que, tanto na Guerra do Vietnã quanto agora, há vários fatores importantes a se lembrar.
Um deles é que não existe uma única tática capaz de parar a guerra. A resistência atual do povo palestino, sua luta armada, é o primeiro fator que vai ajudar a abrir caminho em direção à libertação do povo palestino. O segundo é a mobilização pública e política. A mobilização dos povos pelo mundo pressiona os governos a agir.
O terceiro, que tem um papel importante, é desmontar a narrativa nas redes sociais e nos meios de comunicação sobre o que realmente está acontecendo. A confluência desses três fatores foi o que levou ao fim da guerra no Vietnã e pode, repito, criar novas condições para a libertação do povo palestino hoje.
Mas você disse que essa onda de protestos pró-Palestina nos EUA não é suficiente para mudar a postura dos EUA em relação a Israel. Então o que seria suficiente?
Acho que para mudar a conjuntura atual, para romper essa relação especial entre os EUA e Israel e esse genocídio, são necessários todos os fatores que mencionamos. Mais mobilização política, mais luta armada do povo palestino e que os meios de comunicação assumam uma postura muito mais crítica sobre o que acontece no mundo hoje.
E uma troca de governo nos EUA?
Não acredito que uma troca de governo de uma gestão democrata para uma gestão republicana realmente chegue a mudar essa postura. Acho que isso gerou um nível de consciência política muito mais alto porque se vê que ambos os candidatos e partidos assumem uma postura de lealdade a Israel acima de seus próprios interesses.
Se Biden perder as eleições, não será porque o povo norte-americano perdeu a esperança no Biden, mas sim porque ele [Biden] foi mais leal à defesa de Israel do que à defesa de sua própria candidatura.
O uncommitted vote representa uma ameaça para Biden?
Sim, uma ameaça real, porque estamos falando, em alguns estados, de 10 ou 15 mil votos que fazem diferença em estados-chave.
Mas isso não aumenta as chances de Trump?
Sim, aumenta, porque a tática dos republicanos ao longo das décadas, como eles não têm maioria numérica, tem sido conseguir que menos eleitores democratas votem. E, pela primeira vez, é uma ameaça muito real para estas eleições de novembro.
Ainda assim, diríamos que o governo dos EUA deve retificar seu posicionamento e não só em discursos. Vemos que a vice-presidenta e outros representantes do governo já falam em um cessar-fogo. Algo que eles haviam proibido internamente durante meses. Mas sabemos que o governo dos EUA, o próprio Biden, com uma só ligação, não a Tel Aviv, e sim ao Pentágono, pode parar esta guerra.
Qual seria o papel dos movimentos populares dentro dos EUA? Quais seriam os próximos passos a serem tomados por esse movimento?
Nos últimos seis meses, houve grandes mobilizações que contaram com a participação de centenas de milhares de pessoas, ou até milhões. O fator particular que fez com que isso fosse além de um projeto da esquerda é o fato de que muitas pessoas estarem agindo de maneira independente.
Ou seja, em muitos municípios dos EUA, dos maiores aos menores, as pessoas estão agindo por conta própria. As pessoas sentem que viver e ver esse genocídio, transmitido ao vivo pelas redes sociais, coloca sobre elas uma carga de responsabilidade cada vez maior. Portanto, não depende tanto do que é coordenado pelos movimentos sociais e políticos do país. Já é um movimento que age por conta própria.
Ao fazer isso, ele já gera muito mais contradições dentro do sistema político norte-americano. Porque tem a participação de jornalistas, trabalhadores de Hollywood, atores e atrizes da Broadway, um espectro bem amplo da sociedade a ponto em que vieram a público alguns áudios onde o lobby sionista discute, por exemplo, o que fazer frente ao surgimento desse novo fenômeno político.
Eles propõem, por exemplo, que não é mais um problema “esquerda vs. direita” nos EUA, e sim geracional. Nós perdemos os jovens. Os jovens já assumiram, como geração, uma postura muito mais firme a respeito da Palestina do que a atuação política da juventude das últimas décadas.
Portanto, isso gera um nível de problema político difícil de ser resolvido pelo governo do Biden ou qualquer outro. A única solução para esse problema seria o fim da ocupação. E isso requer um compromisso, uma vontade política que o governo norte-americano não quer assumir agora. Mas se sente muito pressionado e obrigado a responder constantemente.
Além da causa palestina, que outras questões mobilizam a população nos EUA?
Acho que esse novo fenômeno ligado à Palestina se deve muito ao fato de que na última década há um ressurgimento das ideias socialistas dentro dos EUA. A candidatura de Bernie Sanders abriu um novo espaço político para que essas ideias fossem debatidas em público de modo que eu diria que há um aumento, pela primeira vez em décadas, das lutas sindicais nos EUA. Em todo o país, desde os trabalhadores da Amazon até os da Starbucks, estão surgindo novos sindicatos independentes onde a maioria dos trabalhadores são jovens e estão agindo politicamente.
Vemos também a grande causa pendente na política norte-americana que é até quando as negras e os negros dos EUA continuarão sendo assassinados pelo próprio Estado, continuarão sendo presos em quantidades massivas e que superam proporcionalmente a população negra do país.
Então, há uma série de questões. A luta das mulheres, a luta pelo aborto, que os democratas, depois de tantas décadas dizendo que apoiavam o direito das mulheres a decidir, no fim das contas, neste momento, mostraram pouca vontade política para defender esse direito.
Tudo isso gera um ambiente político de muita luta social e o Partido Democrata, que sempre viu os jovens, as mulheres e os negros como sua base social, se encontra na defensiva, tendo que explicar como fazer política nesses momentos, como reagir a essa crise. No fim, como acontece com o capitalismo de modo geral, o Partido Democrata não tem resposta para os grandes dilemas da humanidade. Não tem resposta para os jovens, que mesmo depois de estudar na universidade e conquistar um bom título universitário, não conseguem sobreviver, encontrar um bom trabalho, pagar suas dívidas estudantis, ou comprar uma casa, como seria supostamente o sonho americano.
O sonho americano está morto, então?
Eu diria que está mais do que morto e que há uma geração que, pela primeira vez, tem que procurar uma alternativa.
Há um fator histórico que acho importante apontar, ligado a essa ideia que você propõe, que é uma herança histórica de grave e forte perseguição à esquerda nos EUA, como no período do macarthismo. Como isso é sentido hoje, com esse ressurgimento de lutas e dos movimentos, e como está a situação de perseguição e repressão por parte de instituições nos EUA?
Acho que nos EUA há um grande histórico, um longo histórico de repressão contra os movimentos políticos, sindicatos, as forças dissidentes da sociedade. Isso tudo muito antes do macarthismo, nos anos 1950. Desde os anos 1920, há um grande movimento por parte das classes dominantes para atacar tudo o que pareça dissidente com uma única acusação: “Você é um agente estrangeiro”.
Sob essa lógica, deportaram muitos comunistas e socialistas norte-americanos que haviam nascido em outros países. Isso foi revivido nos anos 1950 com a caça às bruxas macarthista. E estamos revivendo hoje, em nossos tempos.
Uma acusação que se faz aos movimentos de libertação da Palestina nos EUA hoje é que a única razão pela qual puderam fazer essas grandes mobilizações é porque são financiados pela Rússia ou pela China. Sob a lógica capitalista, a lógica de uma democracia burguesa falida, não entendem por que jovens que lutam para sobreviver no sistema norte-americano também estariam lutando pelo povo palestino.
Até que ponto isso é apenas um mecanismo discursivo e até que ponto realmente acreditam nisso? Não é apenas um recurso retórico para poder acusar os movimentos?
Há um elemento que eu acredito ser retórico e outro que busca infundir medo, criar uma situação de tamanho desespero que as pessoas sintam que, mesmo acreditando em uma causa, não é o suficiente para fechar a rua. Por isso, assassinaram o casal Julius e Ethel Rosenberg. Por isso foram executados.
Por isso prenderam os grandes líderes do Panteras Negras. Por isso, reprimiram centenas de organizações políticas nos EUA. E houve casos claros, atuais, de organizações que apoiaram a Palestina ou as causas árabes e muçulmanas, e foram presos acusados de serem agentes, para mostrar que há uma linha vermelha. Uma coisa é falar a favor da Palestina e outra é declarar, mobilizar e organizar a favor dessas lutas.
Você disse que há outros setores que não estão propriamente organizados, mas que compartilham essas lutas. Como a causa anti-imperialista é vista hoje pelos movimentos e pela sociedade dos EUA? Isso está em debate no país?
Eu diria que não exatamente, porque a maioria dos norte-americanos continua ouvindo mentiras sobre o que ocorre no resto do mundo. Mentem a eles em todos os sentidos. Mentem sobre o papel benéfico dos EUA em relação ao resto do mundo.
A maioria dos norte-americanos acha que os EUA têm um papel positivo na ordem internacional. Em poucos cenários, novamente, dos últimos seis meses, isso vem sendo desvelado. Por exemplo, como pode ser que os EUA, como um país que supostamente advoga pela paz e os direitos humanos, vote três vezes no Conselho de Segurança da ONU contra um cessar-fogo?
Isso gera contradições interessantes. Portanto, isso foi gerando, repito, a volta de um pensamento anti-imperialista nos EUA. Não o suficiente para mobilizar toda a população em torno das ideias anti-imperialistas, mas sim para gerar críticas importantes a partir de vários setores da sociedade em relação à política dos EUA na América Latina, na África e na Ásia.
Qual é a importância da participação do povo estadunidense nas lutas anti-imperialistas e de que saibam o que acontece em outros países?
Eu acho que todos os povos do mundo têm uma grande responsabilidade para libertar este planeta, libertar nossa humanidade da escravidão imposta pelo imperialismo e o capital internacional. Mas, fundamentalmente, o povo norte-americano tem um papel importante nessa luta.
Não só porque vive nas entranhas do monstro, mas também porque tem uma sensibilidade de conhecer, por dentro, as contradições desse sistema, que, assim como não resolve as necessidades da maioria da humanidade, também não é capaz de resolver problemas cotidianos do povo dos EUA.
Enquanto o governo dos EUA gasta bilhões de dólares em guerras, ocupações, sanções e bloqueios contra o resto do mundo, não investe nada disso em saúde, em educação, em direitos básicos do povo norte-americano. Portanto, chegará a hora em que a confluência das lutas internas e externas gerará um nível de crise tão grande, que o império não poderá se sustentar.
Como fazer para que o povo norte-americano saiba como funciona, por exemplo, o bloqueio contra Cuba, as sanções contra a Venezuela? É um problema só de imprensa, ou seja, é preciso uma reforma da imprensa, democratizar a imprensa, os meios de comunicação? Ou acha que é algo estrutural, do governo, das instituições?
Acho que é uma luta com vários ângulos. Por um lado, é preciso comunicar mais. A verdade tem que ser comunicada de um jeito que convença uma grande maioria de pessoas. Ao mesmo tempo, são necessárias cada vez mais mobilizações, integração das pessoas, dos jovens, nas lutas políticas que geram a capacidade de enfrentar essas políticas imperiais.
Mas, no fim das contas, e essa não é uma decisão nossa, de um jeito ou de outro, são as conjunturas históricas que abrem espaço. São as grandes crises econômicas e sociais que dão lugar à possibilidade de realmente debater essas questões.
É difícil entender o que é o bloqueio contra Cuba quando você não entende, não sabe, não vê, não escuta exatamente como o povo cubano está sendo privado de alimentos. É muito difícil assumir que são políticas imperiais quando você só vê números de óbitos e não vê, por exemplo, como essa morte afeta a realidade de famílias cotidianas, reais e orgânicas.
Recentemente, eu li um artigo muito interessante no BreakThrough News que dizia que o establishment dos EUA temia o TikTok não só porque é um aplicativo chinês, mas também porque ele supostamente entrega muito conteúdo de esquerda aos jovens. As plataformas também são uma frente de batalha e comunicação?
Claro, é um espaço de muito debate político. Mas são debates que o resto da sociedade não pode acessar. Você nunca vai ver opiniões diferentes no The New York Times. Na mídia corporativa, jamais se permitirá um debate orgânico e sério entre diferentes posições políticas.
Mas isso está presente no TikTok e outras redes sociais, onde muitos jovens compartilham suas verdades, suas realidades, que contrastam muito com o discurso oficial nos EUA. E isso abriu um espaço novo para que a narrativa, neste caso a narrativa sionista, se veja, pela primeira vez, na defensiva.
Sobre os casos de Cuba e Venezuela, que são os casos de sanções mais longas e amplas que os Estados Unidos já impuseram à América Latina: Quanto falta para vermos o fim desses bloqueios?
Acho que, mais do que dizer se falta muito ou pouco, é fundamental ver, cada vez mais, as contradições que essas políticas geram. Por exemplo, agora a sociedade norte-americana está enfrentando a realidade de que as sanções e bloqueios são o principal motivo por trás da migração em massa de pessoas de países como Cuba e Venezuela.
Por que as pessoas se queixam de que, de repente, há uma enorme explosão de migrantes venezuelanos em todo os EUA? É o bloqueio, são as sanções que não permitem que a vida aconteça de maneira normal e efetiva nesses países. Ninguém acorda um dia e diz: “Quero abandonar o meu país”, não é? Há motivos, conjunturas e contextos por trás que é importante entender.
E acho que a situação da migração nos EUA agora, em especial é o que está permitindo uma discussão muito mais aberta sobre os bloqueios e sanções dos EUA. Sobre a Venezuela, especificamente, que também terá eleições este ano, uma coincidência com os EUA, Washington está observando de perto o processo e parece cobrar posturas do governo de Maduro e das instituições venezuelanas, mas também, ao mesmo tempo, não se encarrega da parte que lhe compete na crise venezuelana.
Como você analisa o cenário na Venezuela que tem fatores sociais de crise, como acaba de dizer, mas também fatores políticos e econômicos, como a questão petroleira, que interessa muito aos EUA?
Parte do problema é que os EUA estão muito mal acostumados a sempre ditar as condições e esperar que tudo saia conforme eles queriam. E acho que, na Venezuela, enfrentaram uma realidade onde a população, o governo e as forças sociais que apoiam o chavismo e o presidente Maduro deixaram claro que não vão permitir que a sua democracia sofra uma intervenção dos EUA.
Ao enfrentar os EUA, este se mostra incapaz de gerar uma política real que não seja de violência, e mais ameaças de sanções, e inclusive de ameaças de todo tipo de atos violentos e fascistas contra o processo democrático venezuelano. No fim, temos que pensar que, em todas as etapas, das guarimbas até a Operação Guaidó, os EUA mostraram-se um Estado falido. Não foram capazes de mudar o regime do presidente Maduro. Não foram capazes de gerar uma alternativa real.
Não há nenhum candidato da oposição que tenha uma postura patriótica ou própria ou independente frente aos EUA. E isso levou a uma crise para a própria oposição venezuelana, incapaz de criar um projeto alternativo frente ao chavismo.
Você disse que não sabe o resultado nos EUA, mas quem vai ganhar na Venezuela?
Acho que Maduro tem todas as condições para ganhar de maneira democrática.
Mesmo com toda a oposição participando?
Sim, acho que há mais de 30 partidos participando. Há 13 candidatos registrados. Mas acho que a oposição em si não tem um projeto político. Não tem uma proposta alternativa. Eles geraram tanto ódio, tanta violência no passado, que, para muitos eleitores venezuelanos, eles não apresentam nada viável.
Acho que o presidente Maduro e seu programa político continua sendo o mais sério e o que aparenta ter mais projeções alternativas, inclusive para melhorar as condições do país, que enfrenta tantas sanções.
Em Cuba foram registrados protestos contra apagões que continuam ocorrendo em algumas zonas, devido à delicada situação energética que o país está vivendo. Nesse contexto de protestos, algumas pessoas também foram às ruas protestar contra o governo cubano e pedir seu fim. O presidente Miguel Díaz-Canel visitou os territórios e foi às redes sociais, colocando o governo à disposição da população e dizendo que iria atender as demandas. E apontou também os fatores da oposição que estavam lá e queriam derrubar o governo, fazendo uma distinção entre esses setores. Você esteve em Cuba durante os protestos e eu queria saber, da perspectiva de quem viveu esse momento, quais foram suas impressões?
Acho que Cuba está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua história pós-revolução, nas últimas seis décadas. É uma crise que foi gerada em grande parte pela política norte-americana. Acho que estamos vendo, agora mais do que nunca, o famoso memorando de Lester Mallory colocado em prática.
Nele, Mallory dizia que, para derrotar o governo cubano, derrubar o governo revolucionário, era preciso gerar níveis de fome que obrigassem as pessoas a protestar e derrubar seu governo. Isso se tornou realidade agora em Cuba. O governo norte-americano tomou, muito explicitamente, a tarefa de colocar Cuba cada vez mais contra a parede, de reforçar o bloqueio. Nós pensávamos que as 243 sanções que Trump tinha colocado durante seu governo já eram muito, mas Biden o superou com cada vez mais políticas restritivas que sufocam o povo cubano.
Delimitar o acesso do povo cubano à compra de materiais básicos, como a farinha de trigo, chega a dar vergonha. Caminhando pelas ruas de Cuba, em diferentes cidades e povoados, notamos o desgaste, o cansaço, o grau de privação que existe.
O governo e o povo lutam, acima de tudo, para sobreviver, mas é um momento difícil. Eu diria que é comparável com os primeiros anos do Período Especial, no início dos anos 1990, onde todo um povo é vítima de uma condenação coletiva por parte do governo norte-americano. Porque quem passa fome em Cuba pode ser ou não do Partido Comunista.
Os comunistas e o resto do povo sofrem com essa situação. E acho que faz parte da intenção do governo dos EUA levar Cuba a um nível de desespero, desgastar sua resistência para que se rendam. E, nessa tentativa, assim como em muitas outras coisas, o governo dos EUA falha, não entende que a raiz da resistência cubana vai além até da Revolução Cubana. Há um sentimento e uma consciência patriótica em Cuba que jamais permitiria a volta do império norte-americano para ditar a política cubana.
Mas nos dias em que você esteve lá, o que você sentiu e viveu nas ruas? As pessoas estavam tranquilas?
O sentimento nas ruas é diferente daquele apresentado na grande mídia. Sim, houve protestos em algumas cidades, que não duraram mais do que algumas horas. Mas caminhei por muitas ruas onde não havia protestos, não havia esse nível de atividade política que se imaginava vendo as redes e a mídia norte-americana.
Pelo contrário, o que vi foram pessoas lutando e tentando sobreviver, buscando alternativas, fazendo longas filas para se alimentar, longas filas nos postos de gasolina, procurando medicamentos, buscando formas de sobreviver. Foi o que vi nas ruas de Cuba.
E vi também nas ruas de Cuba membros do governo cubano, do Partido Comunista, conversando com as pessoas, tentando explicar da melhor maneira possível as condições em que o país está e também buscando soluções. Caminhei ao lado de um delegado do Poder Popular por um bairro, onde as pessoas da região diziam que não estava chegando alimento suficiente aos bairros.
E o delegado, que é membro do partido, levou-as à sua casa e mostrou que sua geladeira também estava vazia. Isso me impressionou muito, porque mostra, por um lado, a coerência dos dirigentes cubanos e, por outro, que essa guerra genocida – porque privar um povo de alimentos é um ato genocida como reconhecido pela ONU, é o que está acontecendo em Cuba.
Um povo inteiro está sendo afetado. Um povo inteiro está sendo condenado pelo imperialismo norte-americano. A situação energética e agora a crise venezuelana afetam completamente a estrutura de cooperação entre esses países, que é muito importante para Cuba, o fornecimento de petróleo. Isso afeta tudo.
Chega ao ponto em que, mesmo havendo países dispostos a vender petróleo a Cuba, os EUA intervêm, ameaçando as empresas de transporte, ameaçando as seguradoras, ameaçando até os pontos de transbordo. Ou seja, os EUA estão empenhados em fazer com que o projeto cubano fracasse.
E está fazendo todo o possível para que isso aconteça. Intervêm para que não cheguem alimentos a Cuba, para que não cheguem medicamentos ou combustível. E tentam interromper qualquer tentativa de ajuda humanitária.
O que as forças de esquerda que estão em governos em países da América Latina podem fazer para driblar essa situação de bloqueio total que há em Cuba?
Acho que há dois fatores importantes. O primeiro é que os governos progressistas da região têm que colocar muito mais pressão contra o governo dos EUA. Acho que um dos países que mais advogam nesse sentido é o governo do México e seu presidente, Andrés Manuel López Obrador, que constantemente em suas coletivas de imprensa matinais e em reuniões diretas com o governo norte-americano não permite nunca que a questão de Cuba deixe de ser abordada.
Inclusive, frente à proposta dos EUA para solucionar a questão da migração, qual a resposta do México? “Se querem solucionar o problema da migração, acabem com o bloqueio e as sanções contra Cuba e Venezuela.” Acho isso impressionante.
Nossos povos têm que pressionar cada vez mais sobre os nossos governos para que assumam uma postura de muito mais pressão sobre o governo dos EUA. Em segundo lugar, temos que enviar ajuda a Cuba.
Nós devemos, como irmãos latino-americanos, irmãos e irmãs da região, assumir uma postura diante das privações impostas pelo império ao irmão cubano, devemos gerar alternativas para esses alimentos e medicamentos. Para que cheguem ao povo de Cuba.
O Brasil pode ter um papel nessa tarefa?
Imenso. Países como o Brasil, assim como outros da região que têm uma capacidade produtiva, mas que também, acima de tudo, já foram destinatários da grande solidariedade do povo cubano, que enviou seus melhores filhos e filhas como médicos a nossos países para curar os doentes e dar uma nova oportunidade de vida a tantas milhões de pessoas, que devolveram a visão a milhões de latino-americanos.
O mínimo que podemos fazer é dividir um copo d’água e um pedaço de pão com nossos irmãos cubanos.
Estamos falando de cooperação e avanços, mas em outros países vemos retrocesso e um alinhamento quase automático, instantâneo com os EUA, como ocorre agora na Argentina. Como você avalia o governo de Milei em um país tão importante economicamente, politicamente e geopoliticamente, como a Argentina?
Acho que um dos interesses do governo norte-americano é ter governos lacaios, governos dispostos a sempre seguir a linha política deles acima dos interesses de seus próprios países. Vemos isso com as fotos publicadas por Milei ao lado da diretora-geral do Comando Sul dos EUA.
Deve envergonhar os nossos povos o fato de nossos países serem usados como bases do imperialismo norte-americano para atacar outros países ou vigiar outros países ou reprimir outros povos. É isso que ocorre hoje, mas não é um fenômeno que se limita à Argentina.
Há muitos governos da região que cada vez mais sentem que sua única responsabilidade, acima de sua responsabilidade com seu próprio povo, é servir aos interesses dos EUA.
Sobre intervenções, os EUA planejam outra missão de intervenção militar no Haiti que seria liderada pelo Quênia. Qual o interesse dos EUA no Haiti? São os recursos naturais, sua importância geopolítica ou, de fato, uma preocupação com a segurança dos haitianos?
Acho que o objetivo principal do governo norte-americano é a dominação total do Caribe. Essa é a busca histórica dos EUA há mais de 200 anos. Dominar por todas as vias, militares, políticas, diplomáticas, os povos do Caribe. E já tentou isso com diversas táticas.
A última foi a ocupação militar, por meio da ONU, do povo haitiano. Uma ocupação que nunca trouxe estabilidade ao povo haitiano, uma ocupação que deixou uma herança antidemocrática, ou seja, governos e governos no Haiti que não representam os interesses nem foram votados pelo povo haitiano.
Diante dessa complexa crise que o povo haitiano enfrenta, em vez de permitir que os próprios haitianos decidam o seu futuro, o governo norte-americano insiste em soluções que vão de enviar tropas quenianas até impor um conselho de transição que, novamente, não tem realmente o respaldo do povo haitiano.
No fim, há uma contradição interessante gerada por tudo isso e é que os EUA querem dominar o Haiti, mas não estão dispostos a enviar suas próprias tropas para lutar no Haiti. Acho que o presidente Biden sabe que um novo conflito armado em sua fronteira, em um país tão próximo como o Haiti, faria com que perdesse votos nas eleições de novembro. Por isso, precisamos continuar acompanhando a situação no Haiti. Acho que quem vai ter a última palavra são os próprios haitianos.
O que podemos fazer para nos aproximarmos, aproximar nossos povos, fazer com que os povos da América Latina conheçam as lutas do povo norte-americano e vice-versa?
Vivemos tempos que exigem mais do que simpatia entre nossos povos. São tempos que exigem internacionalismo, como necessidade estratégica para vencer os males que enfrentamos como povos, para enfrentar os desafios atuais.
Não é mais uma questão de se solidarizar com o povo do Brasil, ou dos EUA, ou da Guatemala. Não. É que, se não lutarmos juntos, este planeta, esta humanidade não tem chance. O monstro que enfrentamos, o império norte-americano, deve ser enfrentado, cada vez mais, a partir de posturas em comum.
E isso só se dará quando os povos se conhecerem, trabalharem juntos e por isso insistimos em espaços como a Assembleia Internacional dos Povos, onde entram sindicatos, movimentos sociais e populares, partidos políticos de esquerda, que têm em comum não só uma avaliação, como também propostas do futuro que queremos construir.
E, apesar do que os meios de comunicação dizem, acima do que Holywood e os grandes influencers dizem, é um futuro de esperança, um futuro com dignidade, com soberania. Esse é o ponto de partida para nós. Há um acúmulo de lições das lutas dos nossos povos.
De ponta a ponta, no nosso continente. Do Alaska até a Terra do Fogo. Aprendemos coisas muito importantes. Uma das principais é que a mobilização política sem uma organização política não nos leva ao nosso destino. Cada vez mais, precisamos nos organizar. Cada vez mais, precisamos de coordenação. Cada vez mais, nossos povos precisam ser uma força potente, não só povos incomodados ou descontentes com a realidade e, sim, povos descontentes e organizados.
Edição: Rodrigo Durão Coelho