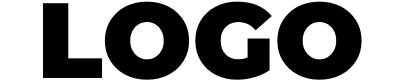Os princípios da política externa brasileira de manutenção de uma autonomia em relação aos Estados Unidos e de aproximação a outros países emergentes vêm cobrando seu preço, avaliam analistas. “Esse bater de cabeças em relação a vários assuntos internacionais relevantes aos Estados Unidos causam irritação em Washington”, afirma Christopher Chivvis, doutor em estudos internacionais avançados e diretor da Carnegie Endowment for International Peace, com sede na capital americana.
A aproximação do Brasil com a China, sua posição sobre as guerras na Ucrânia e em Gaza e encontros com russos empurram para segundo plano pontos que poderiam ser comuns entre os dois países, como a estabilidade regional, os problemas na Venezuela e o desmatamento, aponta Chivvis.
Esse desalinhamento não é novo. Em 2002, o Brasil presidia a Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), com José Maurício Bustani, quando inspetores foram autorizados a buscar esses armamentos no Iraque momentos antes da guerra no país, contrariando planos de Washington. Uma campanha americana tirou Bustani do cargo. Em 2020, um ano antes do previsto, Roberto Azevêdo deixou a direção da Organização Mundial do Comércio (OMC) em meio a críticas do então presidente Donald Trump.
“Não sei se fomos de fato um grande incômodo aos EUA na OMC”, diz Rodrigo Cezar, professor de relações internacionais e coordenador do grupo de pesquisa Comércio Internacional e Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). “Creio que nossas parcerias comerciais com China e Rússia, essas sim, são motivos de certo receio e desconfiança, gerando posicionamentos distintos e atritos nessas instituições”.
Hoje, o Brasil ocupa cadeiras em instituições como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), presidido por Ilan Goldfajn, e o Banco de Desenvolvimento do Brics, comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que em 2015 esteve em um dos atritos diplomáticos mais lembrados entre os dois países, o da espionagem dos telefones governamentais brasileiros pela NSA, a agência americana de segurança nacional.
Até novembro, o Brasil também preside o G20, grupo de ministros da área de finanças e chefes de bancos centrais das 19 maiores economias do mundo – no cargo está o presidente Lula. Nesse período, o país sediará mais de cem reuniões e conferências em que terá voz para influenciar mudanças em organismos como a ONU e o Fundo Monetário Internacional (FMI).
Nossas parcerias com China e Rússia são motivos de certo receio”
— Rodrigo Cezar
“Um crescente número de experts em Washington acredita que seria do interesse dos EUA algum tipo de reforma no Conselho de Segurança da ONU. Mas países como o Brasil precisam desenvolver planos concretos e realistas de como avançar essas reformas”, afirma Chivvis, que não crê no poder de “varinha mágica” americana de criar assentos no conselho, já que os cinco membros permanentes teriam de olhar também para Alemanha e Índia, dois países que compartilhariam da mesma legitimidade geopolítica do Brasil.
Entre os pontos para a desconfiança dos americanos estão episódios que ocorreram no início do terceiro mandato de Lula, como o envio de uma delegação secreta à Venezuela, a recusa do presidente em assinar a declaração conjunta na ONU denunciando ações de crimes contra a humanidade do governo da Nicarágua, a permissão para que navios de guerra do Irã atracassem no Brasil, apesar da pressão da diplomacia dos EUA, e a recusa no envio de armas para a Ucrânia na guerra contra a Rússia.
“A relação entre os dois países, que na visão do presidente [americano Joe] Biden poderia ficar mais calorosa, rapidamente esfriou. A Venezuela, por exemplo, é um dos grandes problemas regionais para os EUA, dado o grande número de imigrantes do país. O Brasil, poderia ter um papel mais construtivo neste caso”, avalia Chivvis.
Assim, a força do Brasil na geopolítica mundial estaria enfraquecida, posição que não tende a mudar independente de quem vença as eleições americana, afirma Cezar. “Este é o padrão atual da política externa brasileira”.