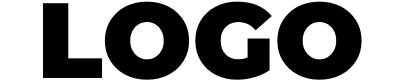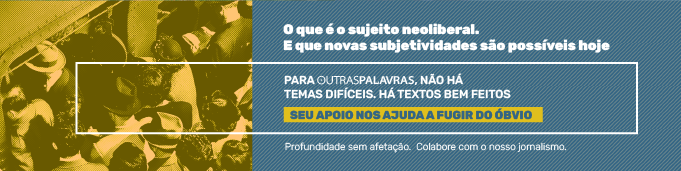Os últimos dias apresentaram ao Brasil, ao mesmo tempo, o potencial de destruição que as mudanças climáticas carregam e o potencial de solidariedade contido no povo brasileiro. Por alguns dias, a capacidade de união dos brasileiros em prestar socorro aos atingidos pelos efeitos das chuvas no Rio Grande do Sul pareceu superar as fake news dos polemistas de internet, que vivem da criação de falsas revoltas morais, assim como a ladainha religiosa de parte dos economistas, mais preocupados com o impacto fiscal da tragédia. Por alguns dias, a solidariedade venceu.
A vitória da solidariedade questiona a convicção derrotista de que não é possível superar a racionalidade neoliberal da competição. Evidentemente, um sistema econômico como o atual, cada vez mais distante das necessidades reais das pessoas, tende a dar razão aos que acreditam que só é possível a busca dos interesses individuais e a guerra cotidiana que, nas cidades e nos campos brasileiros, produz muitos perdedores e poucos vencedores. Mas, de tempos em tempos, a realidade se impõe e mostra que a vida em sociedade só é possível quando ajudamos uns aos outros e colocamos o interesse coletivo acima do individual.
Essa maior atenção ao interesse coletivo faz parte do próprio “depósito da fé” da Igreja Católica, e corresponde ao que a mesma, sabiamente, chama de bem comum. Tal atenção, com destaque aos mais empobrecidos e oprimidos, é nitidamente presente na pregação e prática de Jesus de Nazaré (vide o anúncio que ele mesmo faz no início de sua vida pública, conforme Lc 4,18-19, e em tantos outros momentos narrados no Evangelho até a famosa descrição do juízo final, conforme Mt 25, 31-46). Trata-se de uma atenção com conotação de cuidado, inclusive, na linha do que o filósofo Martin Heidegger destacou como a mais autêntica característica do humano, e o que o teólogo Karl Rahner enfatizou como expressão da unidade inseparável entre o amor ao próximo e o amor a Deus. Essa atenção também é observável na vida das primeiras comunidades cristãs, em muitos ensinamentos do período patrístico e do período escolástico, na pregação e prática de santos como João Crisóstomo e Francisco de Assis, e, mais recentemente, no conjunto de documentos que constituem a moderna doutrina social da Igreja (disponíveis desde 1891). A propósito, o bem comum é o primeiro dos princípios informativos listados no compêndio da doutrina social católica, o qual foi publicado em 2004, e a qual tem caráter moral.
É a partir desse fio de ouro que o Papa Francisco vem fazendo, desde 2013, os mais variados alertas sobre o que aponta como uma única crise socioambiental, e os mais diferentes apelos em vista de uma nova economia, razões pelas quais convocou, em 2019, um processo reunindo jovens acadêmicos, ativistas e empreendedores vindos de diferentes realidades e áreas temáticas, e dispostos a vislumbrar caminhos para realmar os processos econômicos. Partindo de noções básicas como a realidade sendo superior às ideias, e o todo sendo maior do que as partes, Francisco denuncia de forma muito atual e com o devido rigor socioanalítico que nosso sistema econômico mata, gera desigualdades e promove exclusões, e que o credo neoliberal é dogmático, esconde a linguagem por trás de suas teorias mágicas, e não dá conta da realidade social tal como esta se apresenta, ou seja, não responde aos problemas que nela se avolumam, como a catástrofe atual. Da mesma forma, o Papa anuncia que a economia não pode ser submissa ao paradigma tecnocrático, e que a política, em diálogo com uma economia realmada, precisa se colocar a serviço da vida.
Diz ele, literalmente, que “o que não se enfrenta com energia é o problema da economia real, aquela que torna possível, por exemplo, que se diversifique e melhore a produção, que as empresas funcionem adequadamente, que as pequenas e médias empresas se desenvolvam e criem postos de trabalho” (Laudato si, n. 189). O mercado, por si mesmo, não pode resolver os dilemas da vida social, ainda que tente impor o seu receituário pautado no pensamento simplificado de doutrinas como a do trickle-down economics. Nesse sentido, profeticamente, o Papa Francisco afirma que “sem formas internas de solidariedade e de confiança mútua, o mercado não pode cumprir plenamente a própria função econômica, […] e além de reabilitar uma política saudável que não esteja sujeita aos ditames das finanças, devemos voltar a pôr a dignidade humana no centro, e sobre este pilar devem ser construídas as estruturas sociais alternativas de que precisamos” (Fratelli tutti, n. 168).
A ação coletiva e a busca do bem comum, portanto, tornar-se-ão ainda mais importantes no futuro próximo, em lógica humanista. Os desafios colocados neste início de século XXI, sejam as mudanças climáticas, os efeitos das novas tecnologias ou a ascensão de movimentos políticos extremistas, só poderão ser solucionados através de estratégias coletivas, que inevitavelmente implicam a restrição de certos interesses individuais ou de determinados grupos sociais. Mas, para que isso aconteça, será necessário repensar o que entendemos por economia, assim como suas relações com a vida individual e em sociedade.
Nos últimos anos, o Brasil viu emergir uma força social e política regressiva, que reuniu os interesses privados de agentes religiosos alavancados em pânico moral, políticos corruptos se apropriando de parcelas enormes do orçamento nacional, agentes econômicos interessados no ganho fácil e a qualquer custo e grupos sociais reacionários e antidemocráticos, buscando reforçar os elementos de autoritarismo presentes na sociedade brasileira historicamente. Essa força encontrou a legítima revolta dos grupos sociais excluídos do sistema econômico, superexplorados pela precarização do trabalho e abandonados pela insuficiente ação pública.
Não existe solução que não passe por uma reforma radical do nosso modo de organização econômica, que, porém, só poderá resultar de um novo pacto social, que desmobilize as forças sociais, econômicas e políticas retrógradas e estabeleça uma nova visão de futuro para o Brasil, baseada nessa mesma solidariedade que os brasileiros souberam demonstrar nos últimos dias. Dessa feita, porém, uma solidariedade que precisará ser o princípio organizador dos recursos da sociedade e de sua destinação.
Um pacto desse tipo deverá partir inexoravelmente do governo federal, que detém as prerrogativas econômicas que, no capitalismo, permitem ao Estado ser o principal agente organizador dos recursos da sociedade, através de seu poder de emissão monetária, isto é, de geração de dívida na própria moeda, assim como de sua capacidade de reunião de recursos no orçamento nacional e destinação através de uma estrutura institucional voltada ao interesse público.
Mas não é suficiente ter as condições conceituais de realização, sem contar com as condições reais de poder na sociedade. Assim, um pacto de reconstrução econômica do Brasil, ancorada no princípio organizador da solidariedade, exige grande mobilização popular, dos mais diversos setores da sociedade brasileira, sensibilizados pelos efeitos catastróficos que enfrentamos, não apenas nos desastres climáticos, mas também na vida precária que assola a maior parte da população.
O país não pode continuar mais reduzido a um modelo econômico baseado na expansão neocolonial agrário-exportadora, na exploração desenfreada dos recursos naturais e em serviços de baixa qualidade, associados a “reformas” que reduzem direitos sociais universais, pioram as condições de trabalho e desmontam os mecanismos de investimento público. Da mesma forma, o potencial de gasto público não pode mais estar limitado por regras fiscais que limitam a capacidade do Estado de ser um agente estabilizador da vida social, aproveitando os mecanismos criados pelo próprio capitalismo para isso – como a dívida pública.
A matriz produtiva brasileira deve ser repensada em novos termos, e estabelecer os nexos entre os desastres ambientais e a lógica do sistema produtivo é fundamental para se encontrar soluções que “adiem o fim do mundo”, parafraseando Ailton Krenak. Em primeiro lugar, é necessário refletir sobre o conceito de produtividade dentro do sistema em que vivemos, voltada apenas à geração de ganhos financeiros concentrados em poucas pessoas. Seguindo essa lógica, ações como redução de trabalho ou degradação ambiental podem apresentar indicadores perversos de aumento de produtividade. Um exemplo disso é o crescimento desproporcional do agronegócio exportador na economia brasileira, cada vez mais vinculado ao setor financeiro, menos dependente de mão de obra e das necessidades da população brasileira e politicamente associado a demandas de destruição ambiental.
Dados da PAM/IBGE comprovam que a área dedicada à exportação de soja no Rio Grande do Sul aumentou 73,7% de 2000 a 2015. Esse crescimento foi ampliado com o desmonte de centenas de normas do Código Ambiental do Estado (cuja construção levou mais de uma década com a participação de diversos setores da sociedade gaúcha), flexibilização essa liderada pelo atual governador Eduardo Leite (PSDB-RS) em consonância com a máxima de se aproveitar dos ares favoráveis do conservadorismo da extrema direita para “passar a boiada”, na frase eternizada pelo ex-ministro Ricardo Salles. E, para piorar a catástrofe em si, já é conhecida a negligência das recentes administrações municipais da capital Porto Alegre (tomando como exemplo a maior cidade) na manutenção das bombas de sucção que eram projetadas para conter cheias até um nível das águas (do Guaíba) de seis metros, o qual sequer chegou a ser atingido.
Embora o aumento das exportações contribua para o crescimento do PIB e tenha um papel essencial para o balanço de pagamentos, a natureza dos bens exportados pelo agronegócio brasileiro não se integra às cadeias globais de valor e não impulsiona o país para estágios mais avançados de desenvolvimento, consolidando um capitalismo predatório, com uma reprimarização de nossa pauta exportadora. O padrão das exportações brasileiras tem caminhado na contramão do mundo, seguindo uma estratégia de crescimento focada em setores primários intensivos em recursos naturais, de baixa complexidade econômica e associados a maiores emissões e degradação ambiental.
As consequências dessa regressão do modelo produtivo nacional incluem a diminuição do desenvolvimento tecnológico e do crescimento sustentado a longo prazo, com o aumento do desemprego, da informalidade, da concentração de propriedade e de renda. Quanto às consequências ambientais, observa-se o aumento das emissões, a redução da biodiversidade e a intensificação de processos de desertificação e compactação do solo nos pampas brasileiros. A histórica e elevada heterogeneidade estrutural “intrassetorial” no Brasil se expressa também na coexistência entre o agronegócio exportador de commodities e a agricultura familiar. Ambos exercem papeis relevantes para a economia brasileira, mas o segundo não pode continuar perdendo espaço para o primeiro e ver suas condições produtivas ameaçadas pela preponderância de um modelo predatório e pouco afeito à preservação das condições ambientais que permitam sua própria sustentabilidade a longo prazo.
A transformação da matriz produtiva exige igualmente repensar o modelo econômico que desconsidera a questão ambiental. A tragédia que acometeu o Estado do Rio Grande do Sul serve de alerta, pela sua magnitude e calamidade, para um processo que tem se instalado de forma mais frequente e intensa, que é a mudança estrutural do padrão climático mundial. O convite e chamado do Papa Francisco por “realmar a economia” passa por um entendimento ecológico integral que perceba que vivemos num ecossistema integrado em que ações econômicas predatórias – que rompam o complexo equilíbrio ecossistêmico – terão consequências a longo prazo e, dada a intensificação da degradação ambiental das últimas décadas, não tão longo prazo assim, já que ultrapassamos diversas das fronteiras planetárias que mantêm o equilíbrio sistêmico e a vida na Terra como conhecemos. Pesquisadores do Stockholm Resilience Centre apontaram, no ano passado, que seis das nove fronteiras planetárias (nome dado aos processos fundamentais para manter o sistema terrestre dentro de um espaço seguro para vida no planeta e seus possíveis limites, como a integridade da biodiversidade e o nível de acidificação dos oceanos) já teriam sido ultrapassadas.
Apesar de vivermos em um só planeta em que todos serão afetados pelas mudanças climáticas em curso, é importante ter em perspectiva que os países em desenvolvimento – justamente os menores responsáveis pelas emissões globais – serão os mais afetados. Os países em desenvolvimento têm menor capacidade de lidar com eventos extremos como temos constatado no Brasil, na Índia e em Bangladesh, como consequência, por exemplo, de seus processos desordenados de urbanização das cidades que jogaram e jogam milhões de pessoas em bolsões de pobreza com menor infraestrutura e maior vulnerabilidade. Ou pela maior dependência dos países em desenvolvimento de atividades extremamente vulneráveis às mudanças climáticas como a agricultura e pecuária, o que tende a causar grandes impactos na geração de renda e emprego. Além disso, a localização geográfica de grande parte desses países favorece a presença de eventos climáticos como secas, chuvas torrenciais, furacões, entre outros eventos que se tornarão ainda mais frequentes com o aumento das temperaturas globais. Somado a isso, os países do Sul Global têm menores condições financeiras de adotarem políticas de mitigação e adaptação, de modo que os países desenvolvidos devem arcar com a maior parte dos custos das mudanças climáticas em um modelo de colaboração internacional.
A reconfiguração da matriz econômica brasileira exige seguir os passos sugeridos pela economia italiana Mariana Mazzucato em sua ideia de “Economia de Missões”: trata-se de repensar a lógica atual, em que a sociedade trabalha para a economia, em direção a um sistema econômico que esteja orientado à realização de objetivos sociais definidos coletivamente. Nesse sentido, por exemplo, é necessário que seja fundada uma nova dimensão na estrutura econômica brasileira, que seja guiada pela preservação ambiental e pela mitigação dos efeitos da crise climática e pela adaptação das cidades brasileiras a eles. Importa registrar que a maior atenção ao interesse coletivo (por exemplo, a prevenção em todos os sentidos de uma catástrofe como essa, ou, uma vez ocorrida, tal como estamos vendo, a disponibilidade de água potável nas cidades e vilas) não implica, em si, uma alternativa ao capitalismo, mas pode ser elaborada mesmo dando outro sentido aos mecanismos econômicos desenvolvidos por essa forma de organização econômica.
Para que um projeto como esse seja colocado em prática, é necessário: estabelecer uma nova forma de relação Estado-mercado em que ambos tenham o papel de criação conjunta de riqueza, criar formas de financiamento de longo prazo que não se deparem com os limites do mercado de crédito e que incorporem o potencial de geração de renda nova atribuído pelo capitalismo ao Estado, definir novas formas de criação de bons empregos e de distribuição primária da renda e da riqueza a ser criada no âmbito dessa nova dimensão econômica e construir uma nova forma de institucionalidade pública, capaz de lidar com todos esses desafios, articulada ao conhecimento gerado pelas universidades. Essa construção deve necessariamente se dar na esfera nacional; soluções locais não são mais suficientes para lidar com o tamanho dos efeitos climáticos contemporâneos.
Parafraseando Keynes, o grande economista inglês, tudo o que nós podemos imaginar e tivermos os recursos materiais para criar, nós podemos também financiar. “Uma vez feito, está lá. Nada pode tirá-lo de nós”. Para conceber a construção de uma dimensão econômica, que não seja limitada pelos mecanismos econômicos ora vigentes, é preciso entender a profundidade dessa ideia. Keynes e seus melhores discípulos deixaram claro que é possível pensar, no capitalismo, mecanismos financeiros para pagar quaisquer objetivos sociais que possam ser concebidos em nosso nível corrente de recursos materiais e humanos, ou mesmo para ampliar esses níveis ao longo do tempo.
Assim, em nosso entendimento, a transformação econômica essencial para um Brasil pós-catástrofe é a construção de uma institucionalidade econômica nova, que produza riqueza social pública e gere bons empregos voltados aos objetivos sociais e ambientais que se impõem ao país nesse momento histórico. Trata-se de uma necessidade muito além da proposta do governador Eduardo Leite por um novo Plano Marshall, muito além da mera reconstrução nas mesmas bases anteriores. O desafio colocado é o de reconstruir o sistema econômico brasileiro em novas bases, enquanto se expande pela economia essa nova dimensão.
Como vem elaborando recentemente a filósofa americana Nancy Fraser, o sistema capitalista ameaça sua própria viabilidade quando tende à mercantilização completa das sociedades, já que coloca em risco suas próprias condições de existência. Nesse sentido, pensar uma dimensão da economia guiada por objetivos sociais é também uma forma de escolher uma mudança radical o suficiente para transformar o sistema econômico, sem abrir mão da opção por um pacto democrático, voltado à proteção da dimensão humana e coletiva de nossa vida social, que não pode ser reduzida a nenhum interesse particular, por mais que se pretenda universal. Não é menor o desafio que se coloca para a sociedade brasileira (e para o mundo) nesse início de século XXI.
As autoras e os autores são participantes do processo da Economia de Francisco (convocado em 2019 pelo Papa Francisco) e idealizadoras/es do projeto global Mission Economy @ EoF.
Nota:
A nota técnica emitida por pesquisadores do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR) da Universidade Federal de Minas Gerais se debruçou sobre essa questão. Mais em https://pesquisas.face.ufmg.br/gppd/wp-content/uploads/sites/24/2021/08/NT-01_2021.pdf.